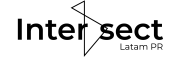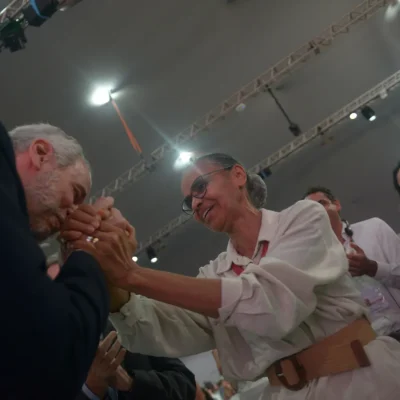Lula promete enfrentar o racismo ambiental na COP30, mas mulheres negras, povos tradicionais e ribeirinhos seguem na linha de frente da crise
Autora: Flávia Santos
Na abertura do maior evento de discussões climáticas, a COP30, que está sendo realizada em Belém (PA), o presidente Lula falou que eliminar o racismo ambiental é um dos compromissos do Brasil. “O impacto desproporcional da mudança do clima sobre mulheres, afrodescendentes, imigrantes e grupos vulneráveis deve ser levado em conta nas políticas de adaptação”, disse durante o discurso.
É importante que o tema seja abordado, mas a pergunta que fica é: o Brasil está realmente preparado para levar esse debate adiante?
Belém é considerada a porta de entrada da Amazônia, e neste bioma o racismo ambiental aparece na comida que chega à mesa e na saúde de quem vive na floresta. Em Santarém (PA), Marilene Rocha, que integra o coletivo de Mulheres Empreendedoras da Floresta de mulheres extrativistas, indígenas e quilombolas, explica que estão na COP30 protestando “contra todo tipo de criminalização ambiental dentro dos nossos territórios”, sendo duas pautas essenciais: o agrotóxico e o mercúrio.
Em algumas regiões da Amazônia, até 90% da população ribeirinha apresenta níveis de mercúrio acima do recomendado no organismo, segundo o estudo Contaminação por mercúrio: uma ameaça crescente para comunidades ribeirinhas e urbanas na Amazônia brasileira de 2022.
A população ribeirinha se encaixa perfeitamente no conceito de “racismo ambiental”. O termo se refere à forma como populações historicamente marginalizadas — seja por raça, etnia ou território — sofrem desproporcionalmente os impactos ambientais causados pelas mudanças climáticas. Entre eles: poluição, seca extrema, desertificação, enchentes, alagamentos e deslizamentos.
Nesse contexto, negros, indígenas, pessoas de baixa renda ou que vivem em áreas rurais ou periféricas, são os mais afetados. Essa vulnerabilidade tem raízes históricas profundas: a ausência de políticas ambientais que os protejam, a falta de aplicação de leis e regulamentos que considerem suas particularidades e a negação sistemática do direito à terra.
No Pantanal mato-grossense, uma pesquisa encontrou oito tipos de agrotóxicos na água que abastece comunidades quilombolas de Jejum e Chumbo, incluindo substâncias já banidas em países da União Europeia por representarem risco à saúde humana e ao meio ambiente.Essa mesma água contaminada irriga lavouras, lava e prepara alimentos e sustenta a pesca, causando risco de adoecimento e de insegurança alimentar.
Mais de 30 milhões de brasileiros não têm saneamento básico
Tudo contribui para o acesso injusto aos recursos naturais, como confirma a pesquisa Encruzilhada Climática: Um Retrato das Desigualdades Brasileiras. O estudo mostra que mais de 30 milhões de brasileiros vivem sem saneamento básico adequado, número equivalente à população somada dos três estados da região Sul do Brasil.
A pesquisa evidencia que no Norte mais da metade das casas (51%) não têm saneamento adequado, e 37% não contam com água encanada. No Nordeste, 40% dos domicílios vivem sem saneamento e 18% sem acesso à água.
Essas pessoas também têm cor e raça: no Norte do país, 55% da população negra vive sem saneamento adequado. No Nordeste, 44% dos negros estão nessa situação. O cenário no Norte é especialmente contraditório. A região abriga quase 70% de toda a água doce do Brasil, mas boa parte da população ainda vive sem acesso a esse recurso essencial.
Isso é ainda pior quando falamos de mulheres. Em 2019, o relatório O Saneamento e a Vida da Mulher brasileira revelou que 15,8 milhões de mulheres (ou 14,6% da população) declararam não receber água tratada em suas moradias.
Nádia Fernandes, pesquisadora da Rede Penssan e professora da Universidade Federal do Pará (UFPA), integrante do Grupo sobre Políticas, Desigualdades e Raça no Brasil do CNPq (Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico), considera que as mudanças climáticas também são um multifator para a insegurança alimentar. Um elemento que “potencializa a redução do apetite em gestantes, agrava quadros de anemia e desnutrição e intensifica situações de insegurança alimentar grave.”
Entre os domicílios com insegurança alimentar, 59,4% são chefiados por mulheres, segundo dados do IBGE (PNAD Contínua 2023).
20 anos sem raça na COP
Embora nos últimos anos gênero tenha ganhado algum espaço nas negociações climáticas internacionais, com a criação do Programa de Trabalho de Lima sobre Gênero em 2014 e sua ampliação em 2019 . O tema costuma aparecer de forma genérica nos textos da ONU: está escrito“mulheres”, mas sem dizer quais mulheres.
Na prática, a agenda de gênero nas negociações tende a refletir a experiência de mulheres brancas do Norte Global, enquanto as vivências de mulheres negras, indígenas, quilombolas e ribeirinhas seguem tratadas como “casos locais”.
Em conversa com a reportagem, Kitoko Gata Ngoulou, ministra das Mulheres da República Democrática do Congo, resumiu: “a crise climática afeta de forma direta a vida das mulheres, especialmente pela escassez de água, a desertificação, o aumento do calor e o impacto na agricultura.”
Kitoko lembra que mais da metade da população do Congo é formada por mulheres e que são elas que sustentam grande parte da economia local. “Quando o clima não vai bem, isso se traduz imediatamente em perda de renda e mais dificuldade para garantir alimentação para as famílias na África e no Chade”, afirmou.
A ministra prova que o que é tratado como um caso isolado, na verdade, é um discurso comum que desconsidera a raça e gênero em espaços de discussões climáticas globais.
“A agenda do racismo ambiental é profundamente desafiadora. Em muitos países, antes de qualquer coisa, a gente ainda precisa explicar o que esse conceito significa”, analisa Viviana Santiago, diretora-executiva da Oxfam Brasil e membro do Conselho de Desenvolvimento Econômico Social Sustentável do Governo Federal.
Não é à toa que, nos últimos 20 anos de Conferências das Partes (COPs), a questão racial praticamente não aparece nos documentos oficiais, relatórios ou planos de ação da ONU sobre clima.
A pesquisa A raça e o gênero da justiça climática: mapeando desigualdades na normativa global, analisou 115 documentos internacionais produzidos entre 1992 e setembro de 2025. O resultado é: apenas 23% mencionam afrodescendentes, e 95,6% das referências à questão racial estão em documentos sem força legal, ou seja, sem obrigatoriedade de adoção pelas Nações. Entre os textos com valor jurídico, aqueles que realmente definem compromissos, só dois reconhecem explicitamente a intersecção entre raça e clima.
Mulheres na linha de frente
Ana Maria Guimarães, quilombola e educadora do projeto Mulheres Empreendedoras da Floresta, afirma que as mulheres precisam se unir por problemas comuns de quem está na margem. “A gente precisa vir levantar essa bandeira de luta justamente pensando na questão do bem-viver, na questão da saúde da mulher, também na questão do racismo ambiental. Porque somos de diferentes territórios, mas as nossas dores são as mesmas.”
Ela conversou com a reportagem durante a ‘barqueata’- manifestação usando barcos – realizada no dia 12, em Belém. Ana Maria contou que na região, indígenas, quilombolas e ribeirinhas sofrem com o agronegócio, com mineradoras e imobiliárias que chegam aos assentamentos. “A gente se une para ir em busca dos direitos das mulheres. E nós estamos hoje aqui sendo privilegiados de estarmos juntos numa COP, trazer as nossas vozes para ecoar e somar.”
“Não existe justiça climática, sem justiça alimentar. Não existe justiça alimentar sem justiça territorial.” Nadia Fernandes, pesquisadora da Rede Penssan.
Para Nádia é crucial que o discurso sobre a interseccionalidade de raça, gênero e território se torne ação. Ela defende que é necessário desagregar sistematicamente os indicadores de Segurança Alimentar e Nutricional (SAN) para operacionalizar essa interseccionalidade, propondo, por exemplo, que as metas não sejam apenas reduzir a insegurança alimentar, mas focar em lares chefiados por mulheres negras em territórios de alto risco climático.
Ela também explica que não podemos incentivar o extermínio institucional. “Invisibilidade significa dizer que você não vê. Você tenta enxergar, mas não vê. O extermínio é diferente, você vê e você opta por não incluir. O extermínio institucional é o negacionismo da crise climática, que leva a potencialidade da insegurança alimentar”, define.
—
Esta reportagem foi produzida por AzMina, por meio da Cobertura Colaborativa Socioambiental da COP 30. Leia a reportagem original em: https://azmina.com.br/reportagens/racismo-ambiental-na-cop30-o-brasil-esta-pronto-para-transformar-discurso-em-acao/?swcfpc=1