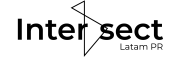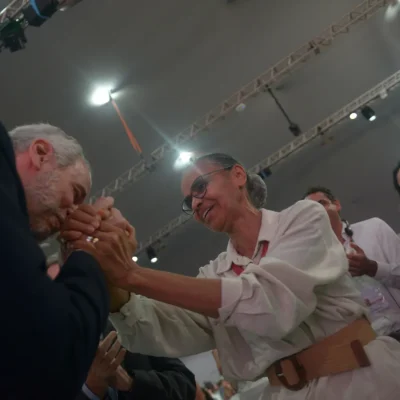Pesquisadores fornecem os dados que comprovam o problema e indicam soluções para diferentes cenários, enquanto o Conselho Científico sobre o Clima atua como apoio para garantir que a presidência da COP30 tome decisões na direção certa.
Autora: Meghie Rodrigues
Quando observamos as políticas climáticas nacionais, os anúncios e as metas definidos em reuniões como a 30ª Conferência das Nações Unidas sobre Mudanças Climáticas (COP30), nem sempre enxergamos o avesso da costura complexa que torna tudo isso possível.
Se, por um lado, essa costura só acontece graças a um imenso esforço diplomático, por outro, existe uma base científica que sustenta tudo o que é discutido e planejado. Afinal, se as conferências do clima servem para enfrentar o maior desafio da humanidade, é apenas por meio da ciência que sabemos que há um problema — ou vários. Sem o alerta científico, não saberíamos que ele existe, muito menos o tamanho dele.
Sem a ciência, também não teríamos ideia das soluções possíveis, e os países dificilmente teriam o que discutir nas COPs e na negociação de outros acordos.
Como o dado de um estudo ou de um relatório do Painel Intergovernamental sobre Mudanças Climáticas (IPCC, na sigla em inglês) chega a uma política nacional ou a um plano apresentado em conferências como a COP30? Que caminho uma evidência científica percorre até se transformar em planejamento e ação política?
Para Mercedes Bustamante, professora da Universidade de Brasília (UnB) e pesquisadora em Ecologia de Ecossistemas, existem diferentes caminhos, dependendo do tema em questão. Quando se trata de reduzir as emissões de gases de efeito estufa, é seguido um tipo de percurso; quando o foco é criar formas de tornar países e comunidades mais resilientes aos efeitos das mudanças climáticas, o caminho é outro.
No Brasil, quando se trata de colocar em prática ações de mitigação, o país conta principalmente com o Inventário Nacional de Emissões de Gases de Efeito Estufa, que aponta quais setores mais emitem esses gases — o que facilita calcular o potencial de redução em cada um deles. Nas últimas edições do Inventário, conta Bustamante, “o Brasil avançou muito em calcular quanto emite a agricultura, mudanças de uso da terra, o setor de energia — o que também quer dizer que o Brasil avançou muito na forma como monitora desmatamento”, diz.
A ciência, conta Bustamante, contribui para o processo de mitigação fornecendo dados nacionais sobre os problemas — o que sai do escopo mais “genérico” dos dados globais do IPCC e facilita o planejamento e ação em território nacional. Isso não é algo de hoje. “A ciência pavimentou a perspectiva do problema antes mesmo da Rio-92. Hoje ela é essencial para pavimentar o caminho das soluções”.
Já para adaptação, o caminho entre ciência e política pública não é tão direto. “O quadro é mais complexo. A base científica mais forte vem da modelagem dos impactos: onde teremos secas mais acentuadas, onde teremos mais inundações, por exemplo”, explica Bustamante.
O foco está, antes de tudo, na identificação das vulnerabilidades locais e nacionais à mudança do clima. Ter essa identificação bem equacionada é essencial, segundo a pesquisadora, para apoiar ações práticas que não gerem uma “maladaptação” — achar que se está resolvendo o problema quando, na verdade, o está aprofundando.
Um exemplo é reconstruir uma cidade ou um bairro em uma mesma área que, segundo a ciência, já provou ter grande probabilidade de sofrer novamente com eventos extremos, como inundações. Nesses casos, a melhor solução de adaptação poderia ser reconstruir esse bairro ou cidade em outro local, por mais difícil que isso pareça num primeiro momento.
Há muitas possibilidades de como o diálogo entre ciência e política pública pode acontecer. “Às vezes, um governo precisa identificar e resolver um determinado problema e encomenda um relatório a institutos de pesquisa e universidades. Às vezes, os pesquisadores identificam esses problemas no seu trabalho e isso chega aos formuladores de política pública pela mídia — o que costuma ser um processo bem mais rápido do que a busca de estudos por parte dos gabinetes técnicos que assessoram autoridades,” diz Bustamante.
O processo também pode começar fora dos gabinetes de formuladores de política pública ou dos laboratórios de universidades. É o caso, por exemplo, do AdaptaClima, plataforma do Ministério do Meio Ambiente que sistematiza e disponibiliza informações e dados sobre adaptação à mudança do clima de forma colaborativa.
“O Adaptaclima foi criado em um processo longo e participativo, de baixo para cima, envolvendo pesquisadores, comunidades tradicionais, pescadores, tomadores de decisão e a indústria”, conta Andrei Polejack, diretor de Pesquisa e Inovação do Instituto Nacional de Pesquisas Oceânicas (INPO) e conselheiro técnico sênior de Oceanos para o Ministério de Ciência, Tecnologia, Inovações e Comunicações. Os dados da plataforma, explica Polejack, foram usados inclusive para fortalecer a Contribuição Nacionalmente Determinada (NDC, na sigla em inglês) do Brasil — plano apresentado à Convenção-Quadro das Nações Unidas sobre Mudança do Clima (UNFCCC, na sigla em inglês) com as ações prometidas para ajudar a limitar o aquecimento global a 1,5°C — no que diz respeito à proteção de oceanos e mangues.
Onde está a ciência durante as COPs?
A ciência, é claro, também assume protagonismo durante as COPs. Isso não se dá apenas pela presença de cientistas fazendo declarações ou chamando os negociadores para a responsabilidade de lidar com a mudança climática com a urgência que exige.
Na COP30, o embaixador André Corrêa do Lago pediu reforço aos cientistas com a criação do Conselho Científico sobre o Clima. Capitaneado por Thelma Krug, pesquisadora do Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais (Inpe) e ex-vice-presidente do IPCC, o grupo reúne 11 especialistas do Brasil e do exterior e atua como ponto de apoio para garantir que a presidência da COP30 esteja tomando decisões na direção certa.
Quando o grupo se formou, no início do ano, a ideia principal era traduzir a complexa ciência do IPCC para uma linguagem clara e concisa, sem “cientifiquês”, conta Krug: “tínhamos que fornecer um texto sobre o ‘estado da arte’ da ciência climática que servisse como base de conhecimento para o presidente Corrêa do Lago e a CEO Ana Toni”. O objetivo era cobrir o maior número possível de temas — da limitação do aquecimento global a 1,5ºC ao que fazer caso esse limite seja ultrapassado, incluindo questões de financiamento e a contribuição de comunidades tradicionais — sem perder o foco no essencial, apesar da grande quantidade de detalhes.
“Entregamos quatro páginas com bullet points resumindo os elementos principais, considerando não apenas questões do Brasil, mas também globais. Puxei muito para que não fosse uma narrativa de recomendações. As recomendações foram uma coisa separada. Então, o documento final foi algo bem científico mesmo”, explica Krug.
Com o documento entregue, a atuação do Comitê na Conferência passou a ser a de assessorar a presidência da COP30 em questões técnicas e mais complexas das negociações — e não apenas no campo científico. “O embaixador se cercou de vários conselhos: tem um para tecnologia e inovação, um de financiamento. Há também os enviados especiais para assuntos específicos”, diz Krug. Tudo isso, aponta ela, para garantir que as decisões sejam propostas e tomadas com base no melhor conhecimento disponível sobre problemas e soluções.
“Como ter uma ‘COP da verdade’ sem saber o que é verdade? A verdade, sabemos, é a ciência que aponta. O importante é que a ciência esteja refletida de maneira honesta, clara, transparente — e com esperança”, completa Krug.
—
Esta reportagem foi produzida por InfoAmazonia, por meio da Cobertura Colaborativa Socioambiental da COP 30. Leia a reportagem original em: https://infoamazonia.org/2025/11/20/o-caminho-da-ciencia-ate-a-politica-climatica/