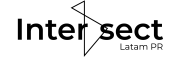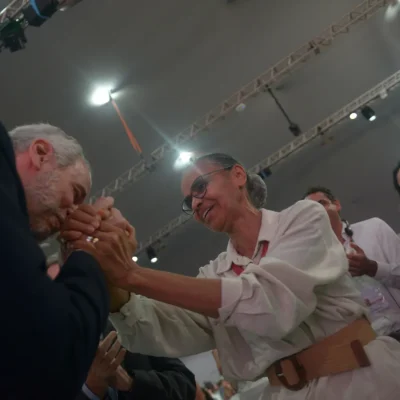A derrubada e queima de florestas liberam o carbono acumulado nas árvores, tornando o desmatamento o principal motor das emissões brasileiras. Entenda o processo passo a passo.
Autora: Meghie Rodrigues
Sozinho, o setor de mudança de uso da terra responde por cerca de metade das emissões de gases de efeito estufa no Brasil, segundo o Sistema de Estimativas de Emissões e Remoções de Gases de Efeito Estufa (SEEG). Como o desmatamento é o principal responsável por essa mudança de uso — quando uma área de floresta se transforma em pastagem, por exemplo —, ele também é a maior fonte de emissões de dióxido de carbono no país.
Mas do que estamos falando quando dizemos que, no Brasil, o desmatamento é a atividade que mais emite dióxido de carbono na atmosfera? Em termos práticos, o que a queda de uma árvore tem a ver com a mudança climática?
A biologia explica
“Antes de mais nada, é importante ter em mente que árvores e plantas não armazenam dióxido de carbono”, conta o biólogo Giuliano Locosselli, pesquisador do Laboratório de Biogeoquímica Ambiental do Centro de Energia Nuclear na Agricultura da Universidade de São Paulo (CENA-USP). Ao invés de CO2, as árvores guardam carbono transformado em moléculas grandes que servem como fonte de sustentação e energia, continua ele.
Mais especificamente: assim como os humanos e outros animais, as árvores conservam carbono principalmente na forma de carboidratos (uma mistura de carbono, hidrogênio e oxigênio), explica Ana Carolina Loss, professora na pós-graduação em biologia animal na Universidade Federal do Espírito Santo (UFES). Um exemplo é o amido, que dá energia e serve de alimento para a planta, ou celulose e lignina, que dão estrutura para o tronco, conta ela.
É para o tronco, inclusive, que vai boa parte do carbono que existe em uma árvore, diz Locosselli. “Cerca de metade do carbono de uma árvore está no tronco — quase tudo ali é para dar sustentação, mas uma pequena parte fica guardada como óleo e amido, que são uma espécie de reserva de emergência da planta”, conta. Uma parte bem pequena do carbono total — entre 1 e 5% — vai para as folhas, e o restante fica distribuído entre tronco e raízes.
Quanto mais velha e maior a árvore, mais carbono estocado ela tem. “Imagine quanto carbono têm as árvores gigantescas e centenárias da Amazônia. Perdê-las seria como jogar uma bomba de carbono na atmosfera. É por isso que conservar a região é tão importante”, aponta Loss.
Mas e o gás carbônico?
Se uma árvore viva é um repositório de carbono, o dióxido de carbono só entra em cena quando esse repositório morre e se degrada.
Segundo Divino Silvério, especialista em ecologia de florestas e professor na Universidade Federal Rural da Amazônia (UFRA), a morte de árvores gera dióxido de carbono de duas formas: pela queima e pela decomposição natural.
A queima, explica Silvério, gera uma reação química em cadeia que tem o CO2 como um de seus principais produtos. “Essa reação química quebra as grandes moléculas de carbono em moléculas menores, que se ligam ao oxigênio presente no fogo e formam o dióxido de carbono”, conta ele. Praticamente todo o carbono preso na árvore se transforma em CO2 nesse processo: enquanto houver madeira e folha para queimar, há carbono disponível.
O processo é um pouco diferente no caso da decomposição natural, a outra forma pela qual a morte de árvores resulta na liberação de dióxido de carbono. “Quando está viva, a árvore tem uma espécie de sistema imunológico em funcionamento que impede que fungos e bactérias a degradem. Quando ela morre, esses microrganismos entram em ação”, conta Lucas Mendes, especialista em microbiota do solo e pesquisador do CENA-USP.
Fungos entram em cena primeiro, liberando uma enzima que “digere” celulose e lignina, quebrando essas moléculas em partes menores para se alimentar delas. “É uma das coisas mais difíceis de se fazer. Seria muito mais fácil fazer combustíveis verdes se fôssemos tão eficientes quanto esses fungos”, brinca Locosselli.
O trabalho dos fungos facilita o das bactérias que se alimentam dessas moléculas parcialmente processadas. Nesse processo, é da respiração desses fungos e bactérias que surge o dióxido de carbono que vai para a atmosfera. “Cerca de 70% do carbono dessa árvore vira CO2. Os outros 30% ficam presos nesses microrganismos. Quando morrem, viram uma necromassa com restos de lipídio de membrana celular que se gruda aos minerais presentes nos grãos de terra e ficam lá, como carbono estável”, explica Mendes. É esse resto de carbono não transformado em CO2 que fertiliza o solo de florestas e facilita o surgimento de outras plantas.
O problema é que, quando se fala em desmatamento no Brasil, quase nunca estamos falando do processo de degradação natural que libera dióxido de carbono na atmosfera aos poucos e muito lentamente. Sem contar a questão do volume. “O fogo encurta para dias um processo que leva décadas — dependendo do tamanho da árvore, até séculos — para acontecer”, alerta Silvério.
Esta reportagem foi produzida por InfoAmazonia, por meio da Cobertura Colaborativa Socioambiental da COP 30. Leia a reportagem original em: https://infoamazonia.org/2025/11/10/como-o-desmatamento-converte-arvores-em-carbono-na-atmosfera/